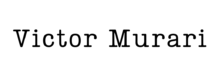Nos últimos dias o certame intelectual brasileiro tem sido tomado por uma série de ataques ao pensamento decolonial. A recente ofensiva manifesta-se menos como um dissenso teórico fundamentado e mais como uma reação sintomática de saturação de uma vertente pragmática, herdeira de leituras de um marxismo ultraortodoxo. O que temos presenciado é um comportamento reiterado que substitui o rigor do debate conceitual pela aplicação genérica e canastrona de “identitarismo”. Um proto-conceito, ou para usar um termo mais da moda, um espantalho retórico, mobilizado para simplificar divergências teóricas complexas e evitar o enfrentamento efetivo das questões levantadas pelas críticas decoloniais à universalidade abstrata da teoria social moderna.
Entre essas intervenções, destacam-se o ensaio de Vladimir Safatle, publicado na Revista Piauí, sobre a relação entre colonialismo e estudos decoloniais e a crítica dirigida ao pensamento de Nêgo Bispo publicada no Blog da Boitempo por Douglas Barros. Embora distintos em seus objetos imediatos, ambos compartilham uma preocupação comum: a suspeita de que a centralidade da identidade e da epistemologia na crítica decolonial implicaria o abandono da análise histórica material e da universalidade política associada à tradição marxista.
Essa preocupação não é nova. Ela ressurge sempre que sujeitos historicamente marginalizados passam a disputar o vocabulário da teoria social e da ação política com um marxismo institucionalizado que se percebe e se pretende como o único horizonte possível da crítica social. Tampouco é inédita a estratégia de mobilizar expressões como “empirismo intuitivista”, “debilidades conceituais e epistêmicas”, “cosmovisão imaginária” e “identidade imaginária” para enquadrar como deficiência teórica aquilo que escapa às categorias universalizantes da luta de classes, convertendo divergências conceituais substantivas em supostos desvios políticos.
Tudo isso sugere que o debate atual não se limita à decolonialidade enquanto campo teórico específico, mas envolve a própria disputa em torno dos critérios que definem o conhecimento legítimo, os sujeitos políticos inteligíveis e as experiências históricas passíveis de reconhecimento na teoria social contemporânea.
A defesa de um universalismo abstrato frequentemente ignora as condições históricas concretas de sua própria constituição. Como argumenta Fabiane Albuquerque, em texto publicado no Le Monde Diplomatique Brasil, a perspectiva decolonial demonstra que a modernidade europeia se estruturou pela articulação entre capitalismo, racialização e hierarquias epistêmicas, de modo que a universalidade proclamada pelo Ocidente sempre coexistiu com regimes sistemáticos de exclusão. A noção de colonialidade do poder, formulada por Aníbal Quijano, permite compreender esse processo com maior precisão histórica: a classificação racial da população mundial tornou-se parte constitutiva da organização econômica, política e cultural da modernidade, integrando-se à própria formação do capitalismo global.
Ou seja, o capitalismo é forjado, desde sua origem, em um processo inseparável da expansão colonial, da racialização do trabalho e da hierarquização global dos saberes, de modo que exploração econômica e dominação cultural aparecem como dimensões complementares de uma mesma formação histórica. A modernidade capitalista consolida-se, assim, em articulação com o racismo, o patriarcado e outras formas de hierarquização social, convertidas em condições estruturais da divisão internacional do trabalho e da reprodução social.
Ao contrário do que faz crer Barros e Sarfatle, a crítica decolonial deve ser compreendida como um alargamento do horizonte da análise material das relações de dominação, e não como seu abandono. O colonialismo não se estruturou exclusivamente pela exploração econômica, mas também pela produção de subjetividades, saberes e hierarquias culturais que sustentaram a ordem moderna. Limitar a subalternidade à posição de classe significa desconsiderar essas dimensões históricas da dominação colonial.
A crítica aos limites do universalismo teórico já se encontrava formulada nos debates acadêmicos da década de 1990, quando Gayatri Spivak, em Pode o subalterno falar?, questiona a pretensão de teorias universalistas de falar em nome de sujeitos subalternos. A subalternidade não pode ser reduzida à posição econômica, pois envolve mediações culturais, coloniais e discursivas que não se deixam apreender apenas pela lógica de classe. O problema, portanto, não é o marxismo como crítica do capital, mas a tendência de algumas de suas leituras a universalizar categorias historicamente situadas na experiência europeia.
Quando Safatle sustenta que os estudos decoloniais fragmentariam a crítica social ou reproduziriam dinâmicas de hegemonia acadêmica global, uma questão relevante é colocada em discussão. A consistência dessa crítica diminui, porém, quando se ignora que a própria ideia de universalidade na teoria social moderna foi historicamente constituída a partir de uma localização geopolítica específica, a Europa. Como argumenta Érico Andrade, no texto Contra a monocultura branca, o problema não está na pluralização das tradições intelectuais, mas na persistência de uma estrutura de validação do conhecimento que mantém a experiência europeia como referência implícita de universalidade. Vale reforçar que o projeto decolonial não busca substituir a universalidade por particularismos culturais, mas interrogar as assimetrias epistêmicas que definiram quais experiências e racionalidades poderiam adquirir estatuto universal. Sem esse deslocamento crítico, o universalismo tende a permanecer como forma abstrata de particularismo europeu, incapaz de reconhecer as condições históricas e coloniais de sua própria constituição.
Algo semelhante ocorre na crítica dirigida a Nego Bispo no texto do Blog da Boitempo. Ao acusar o pensamento contracolonial de essencializar identidades, a crítica assume que a análise histórica material seria necessariamente incompatível com cosmologias e epistemologias não ocidentais. No entanto, como argumenta a réplica no Diplô, a emergência de novos sujeitos políticos, indígenas, quilombolas, periféricos, não representa abandono da história concreta, mas transformação do próprio vocabulário da ação política.
Dessa derivação decorre que, agora, assistimos a uma insólita simetria discursiva: o universalismo marxista, em sua cruzada contra o “identitarismo”, mimetiza a retórica conservadora do pânico anti-woke conservador. Ambas as frentes, embora partam de polos opostos, convergem na interdição da diferença para salvaguardar um sujeito político idealizado, seja ele a classe trabalhadora universal ou o cidadão da ordem nacional. Quero deixar claro que a aproximação retórica observada não significa convergência teórica ou política, mas evidencia um ponto comum, a defesa de um sujeito universal abstrato diante da emergência de sujeitos historicamente situados. A crítica decolonial sustenta, por sua vez, que esse sujeito universal jamais foi plenamente universal, tendo sido constituído a partir de experiências históricas particulares que se projetaram como medida da universalidade.
A crítica decolonial não se limita ao plano conceitual, mas se inscreve em processos históricos e institucionais concretos. A emergência de léxicos políticos como o Bem-Viver, incorporado às constituições da Bolívia e do Equador, evidencia que formas alternativas de pensamento social podem produzir efeitos normativos e institucionais no interior do Estado moderno. Esse movimento indica que a pluralização das matrizes epistêmicas não constitui somente uma disputa simbólica, mas é, antes de mais nada, uma reconfiguração efetiva das linguagens políticas e jurídicas contemporâneas. De modo semelhante, no Brasil, movimentos negros, indígenas e quilombolas têm produzido transformações sociais e institucionais que não derivam diretamente da tradição marxista clássica, mas de lutas articuladas em torno de experiências históricas específicas de seu contexto, como a racialização e a expropriação territorial, demonstrando que a crítica ao capitalismo e ao colonialismo pode emergir de múltiplas tradições intelectuais e políticas.
Se há um risco de simplificação nos estudos decoloniais, como sugerem seus críticos, há também o risco simétrico de reduzir a complexidade da colonialidade a categorias universais que não dão conta das experiências subalternas. denunciar simplificações pode levar a reproduzi-las quando se ignora a historicidade das formas de produção do conhecimento. A decolonialidade surge precisamente nesse ponto de tensão, como tentativa de ampliar o horizonte da crítica social sem apagar as diferenças históricas que constituem o mundo moderno.